


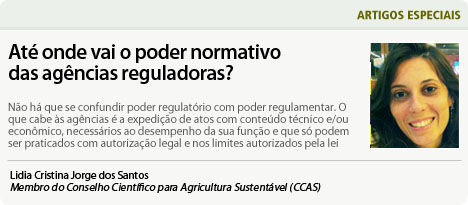
Recentemente foi proferida decisão pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, entendendo que não compete à Anvisa disciplinar, por meio de Resolução, questão referente à propaganda e à publicidade de produtos que possam ser nocivos à saúde e ao Meio Ambiente, ante a ausência de previsão legal [Processo n° 00428824520124013400).
Nesse sentido, entendeu a 6ª Turma do TRF da 1ª Região que, “por mais louvável que seja a iniciativa e efetivamente necessária como garantia da saúde”, não se pode criar “uma obrigação nova, o que só seria possível mediante lei, nos termos do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal”. Assim, não caberia à ANVISA, “por meio de resolução, disciplinar a questão referente à propaganda e à publicidade de produtos que possam ser nocivos à saúde ou ao meio ambiente”.
Esse julgamento trouxe à tona questão polêmica que se refere à abrangência e aos limites do poder normativo e regulador das agências federais.
É certo que as agências reguladoras gozam de certa margem de independência, já que foram criadas para exercer funções normativas, administrativas e, ainda, em muitos casos, função quase jurisdicional, no sentido de que lhes compete resolver, no âmbito das atividades que controlam, litígios entre os vários agentes que exercem serviços públicos mediante concessão, permissão ou autorização entre estes e os respectivos usuários.
Com efeito, o Estado Brasileiro, a partir da instituição do movimento nacional de desestatização, passou a adotar um modelo gerencial de administração, exercendo papel preponderante na fiscalização e regulação da atividade econômica, ao invés de só explorá-la diretamente.
Assim, às agencias reguladoras, órgãos criados no âmbito desse novo modelo administrativo, foram atribuídos poderes de regular, controlar e fiscalizar as atividades correlatas às suas áreas de atuação.
Todavia, essa independência deve ser vista em harmonia com o regime constitucional brasileiro.
Não há que se confundir poder regulatório com poder regulamentar. O que cabe às agências é a expedição tão somente de atos com conteúdo técnico e/ou econômico, necessários ao fiel desempenho da sua função e que só podem ser praticados com autorização legal e nos limites autorizados pela lei.
Noutros termos, apenas o chefe do Poder Executivo detém poderes para editar normas gerais e abstratas para regulamentar as leis. Isso quer dizer que os atos normativos expedidos pelas agências reguladoras, em que pesem sejam também gerais e abstratos, devem se restringir a questões pontuais e essencialmente técnicas, circunscrevendo-se aos exatos limites da lei permissiva.
Nesse sentido, a independência das Agências reguladoras encontra limites no art. 5º, incisos II e XXXV, da Constituição Federal, que consagram os princípios da legalidade e da inafastabilidade do Poder Judiciário.
De fato, se, num primeiro momento, a doutrina afirmou que o Poder Judiciário deveria se limitar a apreciar a legalidade e a verificar a conformidade do ato com a norma que o rege, uma vez que o entendimento predominante era no sentido de que não poderia haver interferência na oportunidade e conveniência do ato administrativo, hoje se vislumbra evolução do pensamento, tendo sido dilatado o princípio da legalidade, para também abarcar o exame dos motivos do administrador, que deverão ser vistos e sopesados dentro de critérios de razoabilidade, moralidade e eficiência, todos inseridos na Constituição Federal do Brasil como princípios.
Como bem ressaltou o acórdão que deu ensejo ao presente artigo: “Por mais louvável que seja a iniciativa e, quiçá necessária a medida, em proteção à saúde, não se pode olvidar o princípio da legalidade, CF art. 5º, II.”.
Assim, conclui-se que, embora sejam as agências dotadas de poder normativo, este deve ser exercido dentro dos limites da lei e dos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, podendo ser, sempre, examinados pelo Poder Judiciário mediante provocação da parte interessada.
|

